Enterrados no Jardim
Diogo Vaz Pinto e Fernando Ramalho à conversa, leve ou mais pesarosamente, fundidos na bruma da época, dançando com fantasmas e aparições no nevoeiro sem fim que nos cerca, tentando caçar essas ideias brilhantes que cintilam no escuro, ou descobrir a origem do odor a cadáver adiado, aquela tensão que subtilmente conduz ao silêncio, a censura que persiste neste ambiente que, afinal, continua a sua experiência para instilar em nós o medo puro. Vamos desenterrar, perfumar e puxar para o baile os nossos amigos enterrados no jardim, e deixar as covas abertas para empurrar lá para dentro aqueles que só aí andam a causar pavor e fazer da vida uma austera, apagada e vil tristeza.
Episodes

Friday Jul 12, 2024
Friday Jul 12, 2024
"Neste tempo que se tornou uma ciência, um conhecimento criminoso da vida" (André Roy), seria preciso resgatar de novo o sentido original, o ímpeto nascente, junto às fontes, e não ficarmos remetidos a uma cultura de remastigação, e de reproduções inertes, ao ponto de vivermos imersos em ecos de ecos, num ruidoso enredo que, sem a menor clareza de ideias, apenas exprime impotência. Alguém mais vincava como "todos os amantes partilham a sua infância e são donos uns dos outros". Mas se entre nós alguém notou que estava na hora de chamar o amor para a mesa dos canibais, disso só ficou a ideia de que já estaríamos encaminhados no sentido do progresso se os canibais começassem a comer com faca e garfo. Entretanto, afastaram e perseguiram os canibais e todos os famintos, e a cultura ficou-se pelos bons modos a observar à mesa e pelos serviços de loiça e faqueiros. Perdemos o caminho, o ritmo, o assobio que nos instigava, e essas artes de transmissão, de revigoramento dos exemplos que nos precederam, e se rodeamos os clássicos de um culto esterilizante, é natural que a poesia portuguesa dos últimos tempos, sobretudo aquela que mais se faz exibir, não tenha nada para dizer, uma vez que já nasce para se entregar ao luto, imita os bustos e fez da arte do epitáfio outra indústria de slogans. Considerando a forma como o público celebra as suas eucaristias com corpos mortos, os poetas, como notou Ezra Pound, aspiram a ser iguais às ostras: querem ser engolidos vivos. Seria preciso reatar esse sentido que derrota a ridícula noção do tempo como construtor de distâncias ou barreiras intransponíveis. Os clássicos são esses amantes que partilham a sua infância, e são eternos contemporâneos. Mas as crenças que presidem às nossas orientações estéticas são todas de ordem mais ou menos miserabilista, suplicantes, patéticas. Deveríamos recuperar esses "Versos de Guerra" que nos deixou o melhor dos artífices da palavra: "Ó poetas de um tostão, acalmai-vos! –/ Pois vós tendes nove anos em cada dez/ Para andar aos tiros por glória –/ com pistolas de brincar;// Acalmai-vos, deixai os soldados tomar os seus lugares,/ E não tenteis sacar a vossa glória postiça/ Das ruínas de Louvain,/ E muito menos da fumegante Liège." Se vos fazemos a guerra na cultura é precisamente para não termos de a levar para outro lado. Hoje querem fazer da arte mais outro recreio do mercado, emulando as suas dinâmicas especulativas, esse parasitismo inconsequente. Mas diante da ignorância e desinteresse pelas grandes obras do espírito e pelo tumultuoso percurso que foram desenhando as nossas tradições, é preciso uma vez mais reabilitar a própria função da cultura, esse princípio de ordenação do conhecimento de modo a que o próximo homem (ou geração) possa achar, o mais rapidamente possível, a parte viva dele e gastar um mínimo de tempo com obras ou produtos obsoletos. No fundo, só os amantes têm pressa pois só eles sabem, como notou Esopo, que "há toda a diferença do Mundo entre correr para apanhar algo e correr para salvar a pele". António Hesse, nosso convidado neste episódio, tem tido a crueza de retomar o sentido de urgência de uma literatura exaltante e que se elaborava através de manifestos. Naquele que ele tem distribuído, lembra-nos a importância de "assumir que o desespero continua a ser dínamo impreterível para os grandes transgressores – ladrões, vilões, desgraçados e iluminados". E o amor clássico é tudo menos essa "pressa de moribundo a testamentar antes que o cacem". Nesta conversa, sob o signo ou a configuração astrológica que Pound nos serviu, quisemos refazer esse mapa para as maiores urgências, aceitando que este é um tempo em que o mais difícil é elevar a vida a esse território invisível e imortal onde ainda soam as grandes passadas que foram dadas há séculos ou milénios como há segundos. Com estrondo, gerando sérios confrontos e desacatos. Toda a ordem nasce de um breve momento de tréguas antes de alguma outra coisa nos precipitar de novo numa guerra onde o que mais importa é estar nela com o mais alto grau de discernimento. Esse campo de batalha é-nos oferecido pela grande literatura, que Pound define como os casos em que a linguagem se vê carregada de significado no máximo grau possível. E para nos livrarmos desta cultura de mastigadores ruidosos que quando acabam de deglutir não têm nada mais para acrescentar, para contrariar os efeitos devastadores desta era de ciência e abundância, ele lembra-nos que "o amor e a reverência pelos livros como tais, próprios de uma época em que nenhum livro era duplicado até que alguém se desse ao trabalho de copiá-lo à mão, obviamente, já não respondem 'às necessidades da sociedade ou à preservação do saber". Simplesmente, sufocamos debaixo de todo o lixo que é posto à nossa disposição pelo tipo de ignorantes que, por não terem a menor perspectiva sobre o passado, estão condenados a repetir de forma inane o que já foi dito com um rasgo superior em tempos em que cada gesto era mais difícil e por isso exigia muito mais ímpeto. "Precisa-se com urgência de uma boa poda, se é que o Jardim das Musas pretende continuar a ser um jardim", conclui Pound. E para levar adiante esta prodigiosa memória e o seu desafio, contámos com o entusiasmo deste poeta e tradutor que desceu como um bárbaro à capital, e se apresentou como um "suave menestrel da Beira, atropófago, semiótico, acrópologo da maledicência", e ainda "humano por definição, místico por vocação", alguém que desde 2017 vem instigando um culto intitulado Hopentoten.

Friday Jul 05, 2024
Friday Jul 05, 2024
Hoje o mundo não sabe estar quieto. Em vez de o trânsito ser de ordem cultural, o regime da competição introduziu um elemento de constante disputa, conflitos de influência e poder. As nações procuram extravasar e invadir-se, e é próprio desse quadro a ideia do revisionismo, a forma como o esforço de subsumir o passado leva a que os nossos juízos procurem consumir toda a história anterior. Talvez pior do que o roubo de bens culturais de outras culturas e povos é essa forma de traficar os objectos culturais, sejam eles a iconografia religiosa, a pornografia ou Das Kapital, submetidos a um sistema de equivalência, organizando tudo segundo valores monetários. Aos poucos toda a ideia de cultura reverte para a ideia de museu. Como nos diz Mark Fisher, "se percorrermos o British Museum, onde é possível vermos objectos arrancados aos seus mundos da vida e reunidos como se no convés de uma nave espacial do Predador, ficaremos com uma imagem desse processo em curso". "Com a conversão de práticas e rituais em objectos meramente estéticos, as crenças de culturas anteriores vêem-se objectivamente ironizadas, transformadas em artefactos." Em seu entender, a grande potência do capitalismo é ser essa entidade monstruosa e infinitamente plástica, capaz de metabolizar e absorver tudo com que entre em contacto. Este efeito aplicado à história leva a um tal grau de saturação desses elementos que uma época assume "um perigoso espírito de ironia em relação a si mesma", como escreveu Nietzsche, "e subsequentemente ao espírito ainda mais perigoso do cinismo", no qual, "a palpação cosmopolita", um espectadorismo distante, na formulação de Fisher, vem substituir o empenhamento e o envolvimento. Demasiada realidade adoece-nos os sentidos, uma vez que já não somos capazes de reconhecer as diferenças e as propriedades que conferem autonomia e respeitam a estranheza de umas peças de um puzzle face às de outro. É como se em vez de montar um puzzle de forma paciente, respeitando a integridade da sua vizão e a ordem que lhe é própria, fôssemos usar cola ou argamassa, sem ter em atenção cada uma das peças. Mais valia sentir diante dessas realidades distantes um vago fascínio, apenas impressões algo desconexas, peças desirmanadas, que não nos confortam com a ilusão de uma perspectiva clara e unitária. Mais vale ter aquele sentimento do aldeão de Tonino Guerra, que, no segundo canto do extraordinário álbum de lembranças a que ele chamou "Mel", nos diz isto: "Deitei fogo a páginas de livros, a calendários/ e mapas. Para mim a América/ já não existe, a Austrália igualmente,/ a China na minha cabeça é uma fragrância,/ a Rússia uma alva teia de aranha/ e a África o sonho de um copo com água." Mais vale uma ignorância humilde e respeitosa, do que presumir que se sabe alguma coisa, que se viaja e viu fosse o que fosse porque um tipo se meteu num avião e aterrou lá ansioso, integrando uma dessas expedições famintas por pedaços da História, que vão por ali disparando a objectiva sobre uns quantos monumentos de forma a provarem a si mesmos e, sobretudo, aos outros que estiveram lá. Como nos lembra Pascal Quignard, em latim, vigiar do alto de um lugar um qualquer sinal de morte para até ele se precipitar como uma ave necrófaga diz-se especular. No fundo, é só isso o que servimos aos turistas que nos assediam nestas cidades exaustas: sinais de morte. Cumprimos o nosso papel como parte de um cenário moribundo. Em vez da arrogância de absorver totalidades, mais vale encantar-se por um elemento de composição qualquer, animar-se com esses cacos que nunca nos poderiam servir como indicações para a plenitude seja do que for. Seria mais útil escrever-se uma história apócrifa da porcelana, como fez Ivan Krustev, em lugar de depredar a agonia daqueles que apenas surgem ao fundo, nos postais dos turistas. "A paixão pela porcelana, Europa do século XIX./ Serviços, elefantes e copos./ O mundo é vasto e bom,/ Distinto, frágil, aristocrático./ E há algo para além disto,/ O horizonte ergue-se transparente./ A América é só uma costa./ E a China um gato preto./ Montesquieu continua a redigir/ As suas cartas sobre filósofos./ Os eruditos usam perucas/ E as senhoras - flores./ Os soberanos não são dementes/ E, no entanto, não são grandes inteligências./ Nenhum fantasma persegue a Europa/ E o amor é fantasmagórico./ Infelizmente os poetas são de salão,/ Felizmente os seus poemas não./ E a liberdade, como um jarro,/ Está no centro do pensamento./ A nova história começa/ Com fragmentos de porcelana./ Enterrada em pequenos elefantes brancos/ Deixamos a idade da Razão para trás." Neste episódio fomos beber o que podíamos à experiência de Tiago Nabais, investigador e tradutor de autores chineses como Yu Hua e Yan Lianke, alguém que passou uma década na China, a ensinar português em várias universidades, e que, sem poder levar-nos lá, deu-nos antes uma boleia e fez de guia para nos permitir compreender melhor esse teatro de sombras chinesas que persiste nas suas memórias.

Friday Jun 28, 2024
Friday Jun 28, 2024
São demasiadas palavras. Parece que nos barricamos atrás delas. E a relação que mantemos com os textos parece cada vez mais da ordem da frieza, do distanciamento, uma forma de se prometer a certas causas e ideias, adiando o momento de deflagração. Escrever não passa assim de integração, legitimação, reconhecimento, academização nos palácios, glória na memória, como nos diz Quignard. Se parece haver mais erudição do que nunca e o nível geral dos literatos até revela uma certa elevação, depois as inspirações revelam-se vazias. A cultura não parece apostada em assumir uma determinação combativa. As figuras que por ela respondem acoitaram-se “numa sageza triste que interioriza como uma tara um saber inutilizável para o ataque”. Como vinca Sloterdijk, “o mal-estar na civilização adquiriu uma nova qualidade: aparece como um cinismo difuso e universal”. Este filósofo alemão nota como o humor crítico por estes dias se volta nostalgicamente para o interior num jardinzinho filológico onde se cultivam as íris benjaminianas, as flores do mal pasolinianas e as beladonas freudianas. “A crítica, em todos os sentidos do termo, vive tempos enfadonhos. Começa de novo uma época da crítica mascarada em que as atitudes críticas estão subordinadas às funções profissionais. Criticismo de responsabilidade limitada, Iluminismo de fancaria como factor de êxito – atitude no ponto de intersecção de novos conformismos e de antigas ambições." Ele aponta para esse vazio de uma crítica que quer cobrir com o seu ruído a própria desilusão. Neste sentido, a escrita torna-se uma ocupação diletante, a transmissão de saberes faz-se sem um empenho sério, sem uma correspondência entre as posições defendidas e as atitudes assumidas na própria vida. Ficamos diante de um teatro de desertores, e toda a representação não passa de uma forma de impostura. Quignard dá-nos o exemplo de Agrippa d’Aubigné, para quem escrever “significava anacorese religiosa face à religião comum, deserto face às cidades, vingança dos seus íntimos que haviam sido executados, fidelidade aos vencidos, aventura, esquecimento”. “É o letrado concebido como o porta-voz dos mortos, desalinhado com a História, malfadado nos dias, engolido pelo silêncio anterior às línguas", acrescenta o escritor francês. Nada disto poderia estar mais distante dessa postura lacónica e enfadada dos escritores contemporâneos, que parecem só sentir algum entusiasmo por ver as suas obrinhas, apesar de tudo singrarem, triunfarem neste ambiente de desagregação. Por toda a parte, vemos as instituições de ensino serem cooptadas pela engenharia da miséria programada, e a cultura e os saberes parecem troçar dessas liturgias que se organizam em seu nome, essa imensa festa sensaborona, entre o tipo de gente que não pretende desencadear qualquer tipo de mudança. Num episódio em que quisemos deter-nos sobre a crise do ensino, da transmissão dos saberes, Steiner serviu-nos algumas pistas… “A maior parte da literatura ocidental, que durante mais de dois mil anos se abriu deliberadamente a uma interacção, na qual a obra ecoava, espelhava, aludia a obras anteriores, pertencentes à tradição, está a afastar-se com uma rapidez cada vez maior do alcance do leitor. Como as galáxias remotas que se estendem para lá do horizonte visível, o núcleo da poesia inglesa do Ovídio de Caxton a Sweeney among the Nightingales, está hoje a passar da presença activa à inércia da conservação universitária. Assentando firmemente numa profunda e ramificada anatomia de referências clássicas e bíblicas, expressando-se numa sintaxe e num vocabulário peculiares, o arco completo da poesia inglesa, do diálogo mútuo que liga Chaucer e Spenser a Tennyson e a Eliot, ultrapassa rapidamente a capacidade de apreensão da leitura natural. Há uma vibração de fundo da consciência e da linguagem que se transforma hoje em material de arquivo.”
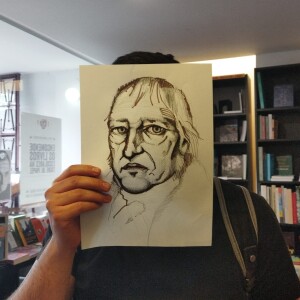
Friday Jun 21, 2024
Friday Jun 21, 2024
“Se a estupidez não se assemelhasse, a ponto de se confundir, com o progresso, o talento, a esperança ou o aperfeiçoamento, ninguém desejaria ser estúpido”, isto foi notado por Musil, mas adiantaríamos que a característica que distingue a estupidez produzida pelo nosso tempo é esta: a sua adequação às próprias noções de sucesso. Afinal, este é um tempo que se destinou ao desastre, e, assim sendo, é natural que as hierarquias nos ponham diante de autênticas conspirações de estúpidos. Só se afirmam esses seres incapazes de uma consciência clara do ridículo das suas existências. Triunfo é uma forma de fanatismo de si mesmo. Essa é a única promessa que o homem contemporâneo é capaz de se fazer, a de que, se o mundo o contrariar, está legitimado para dar cabo dele. Nas promessas que o homem se faz, o mundo foi-se tornando cada vez mais um empecilho, algo inconveniente, e daí que os estúpidos se tenham encarregado de triturá-lo aos poucos, obtendo um lucro fabuloso nessa operação. Olhamos ao nosso redor e toda a existência humana parece estar prometida a este projecto, e todos se mostram imensamente confiantes com o progresso da operação. Na verdade, esta completa falta de noção do ridículo é aquilo que garante que qualquer esforço de crítica seja visto como uma forma de pretensiosismo, uma atitude própria de quem está apostado em perturbar o curso da evolução histórica. No fundo, os estúpidos somos nós. E esta inversão extraordinária garante, pelo caminho, que já ninguém possa ser chamado à razão. O efeito de intimidação é de tal ordem que são cada vez mais escassos os pensamentos que respondem a esta conspiração através da recusa das suas orientações, até porque a linguagem mesma tornou-se imensamente pantanosa, os termos e os conceitos viram-se apropriados pela estupidez, pelos seus valores contagiosos, por essa inversão do sentido, de tal modo que quem questionar seja o que for obriga-se a um exame de tal modo implicante que a maioria se perde, distraindo-se com outra coisa. Qualquer letrado, ao introduzir a suspeita e afastar-se do idiolecto imbecilizante e inteiramente recamado na forma de frases feitas, transforma-se de imediato num ser incómodo, e é ele que atrai sobre si a rejeição dos demais. Hoje, cada escritor que viole esse circuito de noções desastradas vê-se transformado no artista da fome, recusando esse venenoso sustento, apresentando-se na figura do protagonista de um conto de Kafka que exibe como espectáculo o seu jejum prolongado, e que tem de fazer um esforço absurdo para que o público não escolha outro entretenimento. É o próprio destino horroroso que temos diante de nós aquilo que estranhamente nos hipnotiza e atrai. Não conseguimos recusá-lo, pois isso significaria travar uma luta apenas para adiar algo que parece estar inscrito nos sonhos da espécie. Há um desejo cada vez mais desinibido pelo desastre. Como nos diz Pascal Quignard, “matar-se é a paixão específica da espécie homo, fazendo jorrar o seu sangue negro, o seu vírus, a sua virtus, opondo-se às outras feras, nas quais a predação é simplesmente suscitada pela presa que as saciará, e também imediatamente saciada na medida em que a sua fome fora rigorosamente suscitada”. Arrancámo-nos à natureza, e esta dissolveu-se dentro de nós. Agora estamos cativos de uma irresolução permanente, de uma fome insaciável. “As centenas de milhões de ecrãs que cobrem o planeta transformaram-se no novo órgão fascinante, substituindo sacrifícios e ritos, multidões peregrinas, massas espezinhantes. É a sedentarização final. É o progrom tornado imóvel. Se o espectáculo não apazigua inteiramente a fruição horrorizada que este suscita, pelo menos crava no lugar o espectador que examina o sangue a escorrer. Faz daqueles que sidera presas com moradas, documentos de identificação, cartões bancários, vítimas numeradas, corpos sentados e petrificados susceptíveis a todas as extorsões e a todas as pilhagens. (…) O ódio, uma vez tornado imóvel a esse ponto, transforma-se em medo. O medo, esse companheiro único do desejo, confinado na sedentariedade e na propriedade fundiária, é reformulado como angústia. Essa angústia procura protecção junto do poder que ela mesma delegou ao pavor para conter o seu assombro, no qual consente como se não lhe pertencesse sob a forma de obediência, de liberdade mortificada, de imobilidade psíquica, de indolência social. Aquilo a que as democracias chamam política, desde o início deste século, olvidando o horror do século que precedeu este novo século, está a cometer o erro de criminalizar a contestação que as fundamenta e que deveria agitá-las até ao tumulto para as manter vivas.”

Friday Jun 14, 2024
Friday Jun 14, 2024
“Porque os portugueses são de um individualismo mórbido e infantil de meninos que nunca se libertaram do peso da mãezinha; e por isso disfarçam a sua insegurança adulta com a máscara da paixão cega, da obediência partidária não menos cega, ou do cinismo mais oportunista”, dizia há dias Jorge de Sena, um dos últimos que arrancou a voz dos sepulcros e do nosso conformismo para dizer alguma coisa num discurso do 10 de Junho que nos fizesse ferver o sangue. O que é próprio de um bando de filhos da puta é este “desejo de ter-se um pai transcendente que nos livre de tomar decisões ou de assumir responsabilidades, seja ele um homem, um partido, ou D. Sebastião.” Não venham cá erguer castelos de areia e falar de quintos impérios bafientos, tudo o que temos diante de nós e que se publicita enquanto espaço literário ou até, de forma mais abrangente, como campo cultural, são repetições do de sempre, modos de refocilar na pasmaceira, nesse rigorismo das fórmulas que melhor se reproduzem, se perpetuam, deixando uma margem ínfima para que algo de outra ordem possa despontar e reclamar posições, fazer ouvir uma outra música. O destino de todos os gestos vigorosos no campo artístico deveria ser o de contrariar a sufocação, produzindo uma dissidência. O verdadeiro apelo que lança o poeta passa por multiplicar os caminhos, defender a diferença de uma poesia que “não se quer mero exercício literário, mas aventura em que a vida se joga por inteiro” (Cesariny). Hoje começamos por não saber nada de mais profundo sobre nós, não sabemos quantos somos, nem o que nos liga aos que vieram antes. Vai triunfando uma forma de psicose em que cada um investe tudo em si mesmo apenas para se dar conta de que, com isso, apenas colabora num regime de passividade, cada um encerrado como uma larva no casulo, prometendo-se metamorfoses radiantes, mas que se fica por isso mesmo, um eterno desfiar de ilusões inconsequentes, uma distracção em linha com a total ausência de reacções perante a guerra que tomou conta de todos os aspectos da vida em sociedade, desse regime de competição que, curiosamente, produz uma forma massiva de “desvirilização” através da qual os homens se transformam numa espécie de “ovelhas conscientes e resignadas ao abate” (Hollier). Perante este quadro, há uma urgência de recomposição num momento em que tudo serve para nos convencer que não nos é possível afectar uma mudança radical das circunstâncias em que vivemos. Vemos como tudo aquilo que se programa, todas as iniciativas e propostas, servem para arruinar qualquer ímpeto colectivo, qualquer comunidade, separando os grupos dos meios de existência e dos saberes a que estão ligados. Assim, damo-nos conta de que é essa a motivação política que está presente em todos os contextos, contagiando as reles formas de agitação que são próprias de uma cultura reificada, sempre disposta a emular a ofensiva da mediação mercantil que se impõe sobre todas as relações. Para sair disto é necessária uma indisposição de todo o tamanho. Para destruir essa forma de reprodução de si mesmo, os discursos que excitam os consumos e nos oferecem essa versão aguada e impotente das antigas mitologias, esse culto de umas celebridades patéticas e indistinguíveis umas das outras. É preciso revirar o consumo, acicatar um ódio nessa vertigem para a qual aponta Deleuze: “Basta que o ódio seja suficientemente vivo para que dele se possa extrair alguma coisa, uma grande alegria, não de ambivalência, não a alegria de odiar, mas a alegria de querer destruir o que mutila a vida.” Também Michaux não dispensava esse modo de se relacionar que cresce a partir de uma repulsa e nos diz tanto sobre o outro como sobre nós, e falava nessa forma de repúdio que afina a insurreição começada cá dentro: “Preciso de ódio, e inveja, é a minha saúde./ Preciso de uma grande cidade./ Um grande consumo de inveja.” Podemos também seguir de perto e exclamativamente Mário de Andrade e a sua ode ao burguês: “Come! Come-te a ti mesmo, oh gelatina pasma!/ Oh! purée de batatas morais!/ Oh! cabelos nas ventas! oh! carecas!/ Ódio aos temperamentos regulares!/ Ódio aos relógios musculares! Morte à infâmia!/ Ódio à soma! Ódio aos secos e molhados!/ Ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos,/ sempiternamente as mesmices convencionais! (…) Todos para a Central do meu rancor inebriante/ Ódio e insulto! Ódio e raiva! Ódio e mais ódio!/ Morte ao burguês de giolhos,/ cheirando religião e que não crê em Deus!/ Ódio vermelho! Ódio fecundo! Ódio cíclico!/ Ódio fundamento, sem perdão!” Neste episódio, e para nos desvirarmos um tanto dos itinerários e leituras onde já fomos escavando as nossas trincheiras, pedimos apoio a esse mestre de armas de longuíssimo alcance, sobretudo morteiros filosofantes. Victor Gonçalves é desses que vão para o espelho e em vez de gritarem três vezes Candyman, gritam Nitzsche, e passam os dias exaltados, assombrados, fervilhantes num debate sem fim. Diz-se uma espécie de “filósofo jornalista”, pois gosta dos dias, dessa bulha, de dar resposta, não levar tudo para sufocar em casa, e além do ensino de adolescentes, anda aí com os filósofos pela mão, como um bando de meninos diabólicos, a desassossegar os bairros e virar a lata contemporânea.

Friday Jun 07, 2024
Friday Jun 07, 2024
O capitalismo serve-se de uma mão cheia de comprimidos de viagra na hora de falar de erotismo, e prefere discutir as preferências em termos de pornografia ou particularidades sobre a penetração do que se recriar em jogos de sedução. Havia aquele tipo com uma eficiência brutal nas saídas à noite e que se limitava a aproximar-se dos alvos e dizer-lhes “queres foder?” Vendo isto alguém lhe disse: Deves estar sempre a levar estalos… e ele assentiu, que não era infrequente, mas que era o preço que pagava de bom grado sendo que com esta abordagem não deixava de foder todas as noites. O capitalismo não vê a diferença entre ele e o Casanova. Melhor ainda seria Gengis Khan, de quem se diz que cerca de um sexto de todos os homens integram a sua descendência. Aí nem estava em questão obter prazer, mas tão-só submeter as populações conquistadas, inseminar as mulheres à força, esmagar a posteridade com o seu material genético. Também o capitalismo só pensa em reproduzir-se, submeter toda a vida, até ao limite da sua extinção. Este espírito ainda repugna a uns poucos, mas cada vez são menos aqueles que não aderem às comunidades de pregar com pregos, de competir e impor-se aos demais. Entre os burgueses, Cesariny só conseguia admirar uma das suas tantas espécies. "Penso que a questão é esta: a gente – certa gente – sai para a rua,/ cansa-se, morre todas as manhãs sem proveito nem glória/ e há gatos brancos à janela de prédios bastante altos!/ Contudo e já agora penso/ que os gatos são os únicos burgueses/ com quem ainda é possível pactuar –/ vêem com tal desprezo esta sociedade capitalista!/ Servem-se dela, mas do alto, desdenhando-a…/ Não, a probabilidade do dinheiro ainda não estragou inteiramente o gato/ mas de gato para cima – nem pensar nisso é bom!/ Propalam não sei que náusea, retira-se-me o estômago só de olhar para eles!/ São criaturas, é verdade, calcule-se,/ gente sensível e às vezes boa/ mas tão recomplicada, tão bielo cosida, tão ininteligível/ que já conseguem chorar, com certa sinceridade,/ lágrimas cem por cento hipócritas.” Hoje pede-se demasiado da política, mas o vazio é sobretudo de ordem cultural, do espírito, das ideias, e, por isso, também das nossas urgências e necessidades, paixões, desejo. Estamos consumidos por necessidades excitadas e produzidas artificialmente. “Posto isto, podemos começar a formar uma concepção de cultura, uma ideia que, antes de mais nada, é um protesto. Um protesto contra o insano constrangimento imposto à ideia de cultura, ao reduzi-la a uma espécie de panteão inconcebível e ao provocar assim uma idolatria em tudo idêntica ao culto das imagens nas religiões que relegam os seus deuses para panteões. Um protesto contra uma concepção de cultura distinta da vida, como se de um lado estivesse a cultura e do outro a vida, como se a verdadeira cultura não fosse um meio requintado de compreender e de exercer a vida” (Artaud). Diante deste cerco impiedoso, destas práticas ridículas, desta competição que dá cabo de todo o sentido da graça, da elegância de quem sempre preferiu escapar de regimes concentracionários, de bulhas intermináveis, esperava-se daqueles que vivem do tráfico das obras culturais um sinal de diferença, uma forma de demarcação. Pois como notou Vitor Silva Tavares, “se a montante e a jusante do fabrico és tu ‘o mercado’, como te fazem, então está na tua mão lixá-lo – ou, em mais fina terminologia sociológica – subvertê-lo. Escolhe e torna a escolher, encontra esconsos, busca luminescências (quase) clandestinas, contribui, pela inércia, para a cubicagem dos sarcófagos de invendidos, nega a lógica vampiresca dos conglomerados editoriais. Não embarques quando ouves ou lês que eles garantem empregos e salários e difundem a língua e a cultura e o comércio externo e o equilíbrio da balança de pagamentos e o aumento do produto interno bruto… deste embrutecimento programado. Mete na cabeça que a legião de accionistas do ‘sector’ não é de fiar.” Tudo isto serve de balanço para uma conversa em que falámos dos sinais da capitulação deste sector ao mercado, uma rendição eufórica que a cada ano é celebrada nessa liturgia sacrificial que é a Feira do Livro de Lisboa. Para nos acompanhar e impelir nesta reflexão e crítica da forma como o capital se vai espacializando, e subjugando as nossas cidades, “suprimindo as qualidades específicas inerentes aos lugares, os quais já só subsistem em estado de poeiras físicas, como vivências subjectivas e relativas, sem valor nem consistência” (Bruce Bégout), contámos neste episódio com os bons ofícios de Luís Mendes, geógrafo que se tem empenhado particularmente em procurar soluções para a crise da habitação e para a progressiva financeirização das cidades.

Friday May 31, 2024
Friday May 31, 2024
Quando se fala de poesia são aqueles que desatam a brilhar e acham sempre que é com eles que, ao mesmo tempo, se fazem de desentendidos, que nunca sabem bem o que isso seja, até porque lhes convém poder pôr qualquer arrotito lírico nessa conta pela qual ninguém se responsabiliza nem há quem a pague, e lá vão levando fiado e gozando o prestígio dos que elevaram a canção a um modo de provocar um estremeção na realidade. Mas se até um figurão reputadíssimo como Vitor Aguiar e Silva percebeu como os poemas reiventam a linguagem verbal e como nessa reinvenção lêem e dão a ler de modo inédito o homem e o mundo e transformam o homem e o mundo, não deixa de ser estranho que depois os ditos poetas se mostrem sempre tão titubeantes. Dá a sensação que hoje despencam na poesia, como num palco de consolação, aqueles que se frustraram na sua carreira enquanto artistas pop. Estão fascinados por essa regularidade das formas de ruído espectacular, essa mecânica estridente que vive de repetições, cópias, frases sem grumos, reproduzíveis, que ficam no ouvido desses seres mastigados pelo quotidiano massacrante que se nos impõe. Hoje, o rouxinol tornou-se um intruso, uma espécie de imigrante ilegal no reino da canção. Como nota Pierre Alferi, as condições urbanas geraram distúrbios de tal ordem que o ruído no trânsito obriga os rouxinóis a cantarem tão alto que tecnicamente os seus cantos excedem os limites legais. Mas os poetas não, nunca. Só cantam se for conveniente e no volume que se considerar mais agradável. Já o rouxinol poderá causar verdadeira perturbação e obrigar os vizinhos a abaterem-lhe a árvore. São os rouxinóis, hoje, e não os poetas que correm mais risco de serem expulsos da cidade. O que nenhum poeta quer é ser acusado de perturbar a ordem, as consciências ou, em geral, o conforto dos seus contemporâneos. Se pudesse enchia estádios. Mas não podendo, canta por aí nos convívios entre aqueles que acham que a poesia enobrece os seus sentimentos. “Já quase nada surge sem mais nem menos” (Don DeLillo), tudo tem de ser encomendado, convidado, tocam-se as canções mais pedidas. O poeta mais parece uma jukebox, e não tendo êxitos no seu repertório, fica obrigado a fazer imitações daquilo que passa mais na rádio. Para os nossos dias, um tipo como o Camões, esse génio arruaceiro que fervia em pouca água, apesar do ambiente comemorativo nestes seus 500 anos, seria tido certamente como um ser grotesco, um bárbaro face à fraseologia mortuária que ocupou o lugar da língua portuguesa. Hoje seria necessário evadirmo-nos, com Camões e outros da mesma estirpe, esses seres que se agarravam à vida mais pela capacidade de evocar outras visões e mundos, que vão explorando através dessa espécie de arabescos acústicos tecidos à volta das suas experiências, e que compõem canções infinitamente mais convincente e ardorosas do qualquer desses simulacros com que nos divorciamos dos nossos sentidos. Nestes 500 anos, para apreciar a decomposição e o chavascal que se fez à volta da obra de Camões, pedimos a orientação de um dos nossos mais empenhados e audazes camonistas, Hélio Alves, alguém que se tem batido para revitalizar o estudo desta obra, notando que os supostos pedagogos continuam a ignorá-la, “enquanto repetem o mesmo refrão de sempre sobre a valente e mulherenga criatura”. “A dificuldade em formar o pensamento abstracto nos jovens, isto é, a falta do que devia chamar-se uma escola, deve ter contribuído em muito para não se saber ler”, nota ele. “Seja como for, os poucos críticos ainda dignos desse nome não terão outro remédio, para a nossa saúde, senão voltar, seja por que abordagens e matizes forem, à poesia de Camões”. Este nosso guia frisa ainda como Portugal apostou desde sempre na sua excepcionalidade. “Na vida, na carreira, no génio.” O problema é que na hora de medir e sopesar tudo a tarefa parece ter-se tornado demasiado exigente para os leitores que vamos formando. “Quem louvará Camões que ele não seja?”, questionou Diogo Bernardes logo no primeiro verso da homenagem que lhe prestou… Hélio Alves tem procurado pelo menos que haja condições para que a homenagem não sirva apenas como um estratagema para enterrá-lo mais fundo na nossa ignorância.

Friday May 24, 2024
Friday May 24, 2024
Diante deste regime cultural dos que sempre se recomendam (a si mesmos e uns aos outros), dos que em todas as situações encontram forma de capturar-nos apenas para se mostrarem infinitamente virtuosos, desses que, assim, se servem da sua virtude para masturbar os seus vícios (Michaux), somos levados a pensar no que Flaubert respondia quando lhe perguntavam que espécie de glória ambicionava mais: “A de um desmoralizador.” É um problema de inspiração, das matérias e exemplos para os quais nos voltamos, procurando sempre o teor edificante nas nossas manifestações e comportamentos. Todos se querem subversivos, mas não se livram do ranço dos valores de sempre, e rejeitam tudo o que é mais baixo, tudo isso que, por assim ser, “não pode servir em hipótese alguma para macaquear uma autoridade qualquer”. Como refere Bataille, “a matéria baixa é exterior e estranha às aspirações ideais humanas e recusa-se a deixar-se reduzir às grandes máquinas ontológicas que resultam dessas aspirações”. Os elementos degenerados ainda são apenas tolerados e mantidos sob uma apertada vigilância ou condenados à inexpressão. Todas as ficções depravadas circulam como exemplo de um excesso que se vê aproveitado pelos cursos de catequese das artes, como enunciados a serem replicados em série de forma a derrotar qualquer efeito de choque. Hoje a hipocrisia é o preço que todo o vício se vê obrigado a pagar à virtude. Como nota Claudio Magris, as formas de profanação ostensiva, tão gratas a tantas expressões artísticas, revelam-se amiúde cheias de boas intenções, e os escritores que se tomam por iconoclastas celebram o eros frente à repressão, as posturas rebeldes frente ao autoritarismo dogmático, a revolta dos marginais frente aos tutores das hierarquias sociais, e tudo isto não passa de mais outra profissão de moralidade e de bons sentimentos. Quão raros são aqueles que verdadeiramente mostram um interesse sério pelas catástrofes, por essas depressões tumultuosas e crises de angústia. Falamos tanto do inferno, mas, na verdade, muito poucos são aqueles que realmente se atrevem a fazer mais do que molhar os pés nas suas águas. Bataille nutria o maior desprezo por este tipo de artistas, e não poucas vezes exprimiu o ódio diante de um mundo que, até em presença da morte, impunha a sua pata de funcionário”, reconhecendo nos seus contemporâneos “os seres mais degradantes que jamais existiram”. Hoje o conteúdo da vida em sociedade representa uma perda constante de si, uma degradação do desejo, esse pudor diante dos próprios sonhos. “Talvez um olhar desapiedado seja hoje mais necessário do que nunca, num momento em que se foram desmoronando uma a uma as ilusões das grandes filosofias da história, persuadidas como estavam de que as contradições da realidade permitiriam a sua superação e conduziriam a um progresso ulterior”, refere Magris. E acrescenta que o devir do mundo parece agora à mercê de uma caótica e imprevisível ebulição, indiferente aos grandes projectos e perspectivas. Devemos mergulhar de novo no abismo dos nossos próprios sonhos, recuperar essa condição que ali reside em estado de cativeiro, essas criaturas humilhadas, os condenados dessa outra raça que não nos permitimos mais encarnar, essas peles que escondemos no armário. À vida para a qual nos seduzem, com os seus confortos e luxos ordinários, é preferível esta dolorosa odisseia nas trevas, onde não há repouso, mas através da qual é possível escavar esses túneis e recuperar essa lucidez escabrosa e a fraternidade sórdida entre aqueles que precisaram de se dedicar ao crime e à maldade para chegarem a reconhecer os seus rostos no espelho. Neste episódio, e para nos acompanhar nesta descida e busca desse efeito de monstruosidade e plenitude transgressiva, buscámos a companhia de Pê Feijó, alguém que para falar de si começa pela vulnerabilidade, que encara esse gozo de trabalhar com os géneros como uma forma de ventriloquismo, o qual lhe permite identificar-se não com essas composições genéricas e acomodáveis, mas com o carácter insurrecional do desconhecido.

Friday May 17, 2024
Friday May 17, 2024
Que pavor este de porventura não existirmos, não a ponto de isso significar um abalo na vida dos demais. Insistimos sem saber a favor do quê, sem ficar claro exactamente que resistência é essa que começa por degradar-nos ao adulterar os ecos daquilo que dissemos. Devolvem-nos reflexos mutilados, degradam todas as formas de vida ao serem acolhidas entre as mortíferas hipocrisias do campo cultural. Como refere Owen Sleater, "uma das maneiras de encobrir ou aniquilar uma forma é instituí-la. A metodologia de instituir corresponde a um cisma na forma, a uma separação entre o seu modo de ser e o seu modo de actuar. Assim, toda a instituição é uma Igreja menor, que se separa para se reificar segundo o seu objectivo de persistir para governar na eternidade. Apesar de sermos na maioria filhos do império cristão, isso não é uma fatalidade. A verdadeira fatalidade é a crença nesta percepção de que a vida deve ser regida por um princípio unificador capaz de trazer ordem, aí onde, no entanto, tudo transborda. Todos nós já tivemos a experiência de ver emergir as formas, e até os seus movimentos, quer se trate de um caso amoroso, de um tumulto ou de um bar clandestino. Ver a autonomia das formas não é ser contra a instituição, mas distanciar-se dela, fugir dela constantemente. Isto exige que abandonemos esta percepção truncada do sensível. Ouvir, sentir, ver e tocar a ‘melodia da vida’. A melodia da vida é uma autonomia da forma." Vivemos encarcerados numa realidade irrespirável, sem ligação entre uma coisa e a seguinte. Não parece haver a possibilidade de narração de outra coisa, e, se alguém o faz, logo fica perante o zelo desses pasmosos habitantes que, desde a sua indiferença, vão gerindo o desgaste, sufocando tudo entre os seus costumes, essa prosápia medíocre e hipertrofiada. A cultura tornou-se mesmo o vício e a pretensão de tudo quanto julga ser “gente” num país sem termos de comparação que possam equilibrar essa doce paranóia de grandezas engendradas a meias pelo tédio e pela falta de imaginação. Outrora, o tempo e a posteridade ainda entravam em linha de conta, persistia a possibilidade desse último recurso, e de que estes ainda se prestassem a fazer justiça, corrigindo o triunfo e as suas tabelas. “Mas o tempo já não é capaz dessas cortesias nem de redescobrir a mensagem para lá do meio. Hoje os meios são a mensagem, mudam e apagam a História. A indústria da cultura destruiu a posteridade; não haverá revisões dos triunfos presentes” (Claudio Magris). A hora de muitos dos tantos que se vêem por aí insistentemente ignorados nunca chegará deveras, e talvez só possam contar com o benefício de uma redescoberta frouxa e momentânea por parte de meia dúzia de apreciadores. É isto o que somos, traficantes de cintilâncias e do caos de singularidades incalculáveis no meio desse aparatoso festival que resulta da submissão miserável da época às “linhas imbecis das morais e das eficácias primárias”. Decididamente, tudo quanto é interessante se passa na sombra. Cada vez sabemos menos da verdadeira história dos homens. Somos seres atravessados por este desacerto e esta incerteza descoroçoante. Não temos notícias de quem somos. Talvez por isso já não faça sentido procurar desfiar esse fio de vozes, esse sentimento partilhado, esta repulsa diante da cretinização e abominação da vida. “Quando se é fraco, o que dá forças é conseguirmos despojar os homens que mais tememos de todo e qualquer prestígio que ainda tenhamos tendência em consentir-lhes”, escreve Céline. A nossa obrigação é restabelecer o tumulto, criar zonas onde a paixão possa ser expressa sem complexos, sem os subterfúgios da ironia, lugares onde a errância e o excesso não sejam penalizados, mas acolhidas. Neste episódio, neste desejo de estender uma conversa que já vai longa, de reanimar a sua deriva, convidámos Maria Etelvina Santos a juntar-se a nós. Alguém que, para além do longo convívio com Maria Gabriela Llansol, de que se tem ocupado como ensaísta, mas também trabalhando o espólio, transcrevendo e preparando a sua edição, se tem desdobrado para desencantar esses períodos de imersão num outro mundo, num outro tempo, alargando os veios de irradiação de formas de vida radiosas para que a posteridade possa um dia retomar o fio.

Friday May 10, 2024
Friday May 10, 2024
O ruído assumiu uma preponderância de tal ordem que o seu ritmo se impõe como uma forma de coacção, uma moral que engole e, sem digerir nada, devolve tudo na forma de uma massa de detritos. Com todos esses juízos precipitados, tendenciosos, é raro darmos com um espírito lúcido, capaz de reservar uma relação de espanto e estranheza face ao mundo, repelindo a consciência comum. Quem se confronta realmente com a realidade e a julga pelos seus próprios meios, de acordo com a sua experiência e sensibilidade, acaba ilhado, vendo-se cercado de um imenso mar de ressaca, de toda essa civilização do cliché. Mesmo os artistas, até os escritores depressa se livram da sua diferença, deixam-se subornar. Se os lemos, se a vida deles nos sobe à boca, tem aquele gosto do vómito. Mais do que escrever grandes romances, poemas épicos, ensaios intermináveis e com vontade de abocanhar o mundo, seria necessário operar por meio de uma fantástica depuração, uma eliminação radical dos elementos degradados. “Vivemos num mundo onde há cada vez mais e mais informação, e cada vez menos e menos sentido”, nota Baudrillard. A maioria dos homens já nem dominam qualquer ofício, perderam até a capacidade de efabular, de contar histórias, de dominar a própria força e desejo, aquela irradiante virtude da alegria, aquele fulgor radical. Vemo-los revirar as bibliotecas em busca dessas partes íntimas dos mitos, procurando exumar pequenos detalhes, produzir ficções ingénuas e pífias formas monstruosas a partir de cadáveres que, na sua substância, permanecem intocados. Esta fórmula tornou-se um dos grandes desígnios de uma certa literatura que obtém o favor dos leitores, talvez porque lhes vende uma ideia de que o segredo que estamos a perseguir diria o suficiente. Há muito que se reconhece como a cotação da experiência baixou, abrindo caminho à desintegração da realidade, que, doravante, se adapta às imposturas que cada um carrega num esforço de adaptação a sociedades marcadas pela paranoia. Talvez por isso seja difícil encontrar aqueles que são capazes de converter a realidade que lhes é próxima, tão familiar, em algo que seja iluminador, e que possa escapar desse todo despropositado e que vai sendo salvo pela velocidade do naufrágio. Não deixa de ser curioso notar como nessas concisas fórmulas através das quais uma geração procurava passar à outra uma certa experiência, nos provérbios ou nos contos morais, tantas vezes o que exprimem parece um contrassenso, um desafio à lógica. Como se a autoridade que só chega com a idade o que nos conferisse fosse uma capacidade de estar apto a abandonar as nossas expectativas e ilusões de forma a acolher uma lição de vida. Há muito Benjamin questionava-se: “Onde é que se encontram ainda pessoas capazes de contar uma história como deve ser? Haverá ainda moribundos que digam palavras tão perduráveis, que passam como um anel de geração em geração? Um provérbio serve hoje para alguma coisa? Quem é que ainda acha que pode lidar com a juventude invocando a sua experiência?”. Vivemos desolados numa realidade que já não responde a qualquer desejo, a qualquer hipótese por nós formulada e, no entanto, são aqueles que acusam todo este regime em que as ratazanas e a paranóia se impõem aos nossos antigos sonhos e propósitos, são esses que encontram maior resistência. Nos nossos dias, o crítico inspira ódio, porque a sua consciência fere esse enredo indulgente que tantos tecem para si mesmos. “Parece um fantasma no meio dos viventes porque é o único a interrogar a sua noite. Nessa interrogação solitária, que resume a sua vida, dá aos outros a possibilidade de ver, mas ver verdadeiramente. Não lho perdoam” (Ernesto Sampaio). No meio deste regime que nos devolve o mundo em ruínas e submerso nos seus próprios detritos, é urgente escapar desta atmosfera opressiva. Como sinalizava Don DeLillo, a nossa cultura parece estar reduzida a este ditame: “E vai tudo para a lixeira. Produzimos quantidades fabulosas de lixo, depois reagimos ao lixo, não apenas tecnologicamente, mas nas nossas emoções e raciocínios. Deixamos que o lixo nos molde. Deixamos que ele controle os nossos pensamentos.” Neste episódio, procurámos a companhia de um ilhéu, um açoriano nascido em Lisboa, um tipo que tem feito de tudo como escritor, como jornalista literário ou crítico. Nuno Costa Santos já não rejeita mas antes gosta de aparelhar essas naus precárias, jangadas com ânsias de outros mares, nesse esforço de partir à descoberta de uma linguagem cujos elementos não se comportem como restos de naufrágio à superfície de um mar morto.




